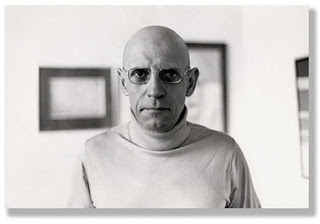Passaram-se vinte e um anos desde a morte de Foucault. Pense por um momento no que isso significa. Em 1984 não havia internet, não havia DVDs, não havia telefones celulares, CDs estavam somente vindo a existência, o gravador de vídeo pessoal [TiVo] era um sonho distante e nós podíamos dirigir sem ter de lidar com os utilitários esportivos. Muitos afirmariam que era um mundo diferente. Meus filhos fazem essa afirmação e expressam admiração com fato de que nós, de alguma maneira, fomos capazes de conduzir nossas vidas sob tais condições.
E ainda, quase uma geração após a morte de Foucault, nós retornamos a esse pensador, esse historiador, esse filósofo, como se ele ainda falasse conosco, como se nós ainda não tivéssemos exaurido o significado de suas palavras. De repente, nos confrontamos com a seguinte questão: o que fazer de Foucault agora? O que nos resta a aprender dele? O que nos resta para pensar e agir no rastro de seus escritos?
Para começar a lidar com tais questões, permitam-me dar um passo atrás e fazer ainda outra questão. É uma questão que se associa à disciplina da filosofia, mas que não deveria se associar. Ou pelo menos, não deveria estar associada tão somente à disciplina da filosofia. Deveria associar-se a todas as disciplinas e às nossas próprias vidas. Para ninguém que está lendo isto, a questão parecerá estranha. A questão é: Quem somos nós? Questão que nas mãos de Foucault se transforma numa outra questão, e por razões que valeria a pena nos determos.
Considere a resposta à questão de quem somos nós, oferecida pelo filósofo clássico, René Descartes. Descartes diz que somos a combinação de uma substância mental que pensa e uma substância física que age, uma mente e um corpo: dois tipos de entidade separadas que, por alguma razão, acabam se encontrando na glândula pineal. Para Descartes, ser quem somos é essencialmente ser um certo tipo de ser, um certo tipo de arranjo ontológico. Para nós, talvez haja aqui outras coisas relevantes, mas o essencial reside nisto: em nossa constituição como seres físicos/mentais.
Ou considere outro pensador mais próximo de nosso tempo: Sigmund Freud. Freud também nos oferece uma resposta à questão de quem somos nós. Para Freud, somos um conjunto de conflitos resolvidos com mais ou menos sucesso. Ser um ser humano é encarar estes conflitos, encarar a herança fraturada que é nossa sina, o legado de desarmonia interna que foi transmitido através das gerações remontando até Moisés e, com toda probabilidade, até à bem antes dele.
Descartes e Freud oferecem respostas muito diferentes à questão de quem somos nós. Onde convergem, entretanto, e onde tantos outros pensadores que forneceram o framework para se pensar quem somos nós – desde Platão e Aristóteles, passando pela história do pensamento Cristão, aos filósofos modernos como Jean-Paul Sartre – onde todos convergem é em que a resposta a esta questão reside em certo caráter essencial possuído por nós. Não importa quem sejamos, tem de ser descoberto em algo atemporal ao redor de nós mesmos, algo que dê a cada um de nós uma afinidade com o aldeão medieval ou com o antigo guerreiro grego. Dito de outra maneira, para responder à questão de quem somos nós não é preciso apelar às contingências de nossa história, e talvez mesmo nem se possa fazê-lo. Para nós, certamente, é precisamente aqui que o pensamento de Foucault se torna relevante.
Apelar às contingências da história não é simplesmente apelar à história. Isso muitos pensadores já fizeram. Karl Marx, por exemplo, vê a história como o desdobrar de nossa essência humana. Para Marx, pelo menos em seus primeiros escritos, e talvez subjazendo os posteriores, a capacidade de sermos plenamente humanos, de ser quem somos, de expressar aquilo que ele chama de ser da espécie, requer a passagem por uma história tumultuosa. Essa passagem irá criar enfim as condições que se nos permita revelar o caráter humano. Nascemos para a miséria, exigindo que os mecanismos da história, com o vai e vem da dialética, a superem. Sem essa história, não seríamos nada além de caçadores-coletores primitivos, animais incapazes de alcançar nossa plena natureza.
Marx, certamente, levou a história em conta. Fixou-se nela, à sua necessidade e inevitabilidade em fazer de nós aquilo que realmente somos. Mas é precisamente à sua necessidade que ele se fixou, não à sua contingência. Tomar a nós mesmos como seres produtos de uma história contingente não é simplesmente dizer que nossa essência se desdobra na história, ou que a história revele quem somos nós. Sustentar que desdobremo-nos ou revelemo-nos através do tempo, é não levar a história suficientemente a sério. Para Marx e outros como ele, a história ela mesma se torna refém de nossa essência ou subordinada a um princípio subjacente que nos guia à direção em curso. Se levarmos a história a sério, e levarmos nós mesmos a sério como seres históricos, devemos reconhecer a contingência da história. Devemos lidar com o fato de que a história não teve de tomar as rotas que tomou, que poderia ter acontecido diferentemente. E nós, como produtos dessa história, poderíamos também ter acontecido diferentemente.
Nada exterior a uma história frágil e contingente nos fez ser aquilo que somos. Essa é, como será mostrado, ao mesmo tempo nossa natureza e nossa esperança. Como Foucault diz, “Há um otimismo que consiste em dizer que as coisas poderiam ser melhores. Meu otimismo consistiria antes em dizer que, tantas coisas podem ser mudadas, frágeis que são, sujeitas mais a circunstâncias do que a necessidades, mais arbitrárias do que auto-evidentes, mais uma questão de complexas, embora temporárias, circunstâncias históricas do que com inevitáveis constrangimentos antropológicos “2.
Muitos entre nós já estão familiarizados com estas frágeis circunstâncias históricas. Permitam-me, então, relatar-lhes uma, no espírito de mantê-las diante de nós. Gostaria de começar com as palavras Era uma vez. Temos de ter em mente, entretanto, que quando uma estória foucaultiana começa com as palavras Era uma vez, é por razões opostas à da maioria dos historiadores que começam dessa maneira. Quando nossos pais contavam estórias começando com estas palavras, era sempre para marcar o início de um fio que conecta o lugar onde a estória começa com o lugar onde ela termina, uma trajetória contínua que corre seu curso do primeiro ao último momento. Quando as estórias de Foucault começam, o Era uma vez, inerente ao seu começo, marca um lugar a partir do qual o fio se rompe, e não a partir do qual o fio começa a se desenrolar. Em outras palavras, ele marca um ponto de contingência na história de quem somos nós.
Era uma vez, quando pessoas iam ao confessionário católico contar aos padres os atos pecaminosos que cometeram. Elas confessavam seus furtos, seus adultérios, seus atos de violência e impiedade. Era uma vez, havia um mundo dividido entre o permitido e o proibido. Quando se praticava atos proibidos, se confessava na esperança da absolvição. Se se cruzava as fronteiras, o confessionário era uma via para cruzá-la de volta. Mas então algo muda. Por volta do período do Concilio de Trento, que ocorreu de 1545 até 1563, o confessionário assume um outro caráter. Duas mudanças fundamentais emergem. Primeiro, confessava-se diferentemente os atos. Em particular, as violações sexuais não eram mais para serem descritas em tantos detalhes; falar de sexo tinha de se tornar mais discreto. Entretanto, se a descrição da sexualidade havia se estreitado, seu alcance foi ampliado. Falava-se menos, mas confessava-se mais. Não somente os atos, agora os pensamentos e desejos também eram para ser confessados. As violações sexuais eram rastreadas dos atos às origens, mesmo quando tais origens não incidiam efetivamente sobre uma violação particular. Como nota Foucault, “De acordo com a nova pastoral, o sexo já não deveria ser nomeado impudentemente; mas seus aspectos, correlações e efeitos tinham de ser traçados até as suas mais finas ramificações: uma sombra num devaneio, uma imagem dissipada devagar demais, uma mal exorcizada cumplicidade entre a mecânica do corpo e a complacência do espírito: tudo deveria ser contado” 3.
Com o contar de tudo, desde os pensamentos, e particularmente os desejos, o caráter sexual da pessoa como coração da confissão, gradualmente toma o lugar dos atos cometidos. Os atos, afinal, eram simplesmente expressões do caráter. O que contava era o que se tinha na profundeza de seu ser. Da gradual revisão do confessionário Católico à crítica da religião de Freud, há uma linha reta a ser traçada, uma linha envolvendo o desejo sexual como chave para desvendar o mistério da natureza de alguém. Era uma vez quando só havia atos para serem contados. Então algo acontece e há desejos para serem confessados, desejos que não só revelam o que se fez, mas o que se é.
E isso não é tudo. Não há uma estória única para ser contada, simplesmente uma estória do confessionário. Estórias são sempre múltiplas e intersectantes. Era uma vez, havia o feudalismo. Então o capitalismo se desenvolveu, e junto com ele a necessidade de monitorar populações, de modo a utilizar-se delas da maneira mais eficaz. Com a ascensão do capitalismo chega a ascensão os estudos da população. E com o interesse em torno da população chega o interesse pelo sexo, dessa vez por outro ângulo. Quem somos nós como seres confessantes e quem somos nós como seres participantes do capitalismo começam a se intersectar. Este é o porque, como nos diz Foucault, a revolução sexual dos anos 1960 não nos liberou de uma sexualidade reprimida. A sexualidade está conosco por centenas de anos, discreta, mas permeante. A revolução sexual, o apelo para que expressemos nossa sexualidade, é simplesmente o confessionário Católico e o divã do psicanalista por outros meios.
E então novamente, ao lado do confessionário e do capitalismo, era uma vez a medicina que, enquanto medicina psiquiátrica, estava interessada no delírio. Então, com a ascensão da confissão dos desejos e do crescente interesse na sexualidade, ela se torna mais preocupada com os instintos. A este respeito, para fornecer a chave da anormalidade estavam, acima de tudo, os instintos sexuais. “A carne da concupiscência… fornece um modelo para a análise e conceituação das desordens instintuais”4.
Era uma vez em que nós não éramos seres sexuais, seres definidos pelo caráter sexual. Mas agora somos. Que significa dizer que somos seres definidos pelo caráter sexual? A história desdobrou-se de tal modo a revelar-nos, como se após termos perdido isso de vista por todos estes séculos, enfim, reconhecêssemos agora que somos seres definidos pelo desejo? Éramos tais seres durante todo esse tempo, mas só agora isto se torna claro para nós? Dificilmente.
Somos seres sexuais neste momento da história – ou, retornaremos a isso, éramos seres sexuais em 1976, quando Foucault publica o primeiro volume de sua História da Sexualidade? Sim, somos tais seres, ou pelo menos éramos. Também somos outros tipos de seres, por exemplo, seres disciplinares, como Foucault nos conta pela sua história das prisões. Não há uma estória única para contar, mas ao invés, muitas estórias. Como John Berger nos lembra, “Nunca mais uma única estória será contada como se fosse a única” 5.
Mas, de fato, somos também seres sexuais. A chave, entretanto, é que não somos assim por nenhuma necessidade, nem devido a uma natureza essencial que nos fez assim mas que só recentemente viemos a descobrir, nem por uma história cujo desdobrar inevitável nos revela quem somos. Somos seres sexuais porque uma história contingente, uma história que já foi diferente e que, de fato, pode vir a ser diferente, neste momento, nos depositou nestas paragens. Somos seres sexuais porque somos seres históricos, porque quem somos nós é o produto de uma história que aconteceu tomando este curso, e não outro qualquer. Este é o porque, como mencionei anteriormente, nas mãos de Foucault a questão de quem somos nós se transforma em outra. Para nós, a questão não é tanto, Quem somos nós? mas, Quem somos nós agora?, ou, como Foucault algumas vezes pergunta, Que é o nosso presente?
Quando interrogamos quem somos nós não devemos interrogar por uma natureza que reside por trás de nós ou que nos faz ser aquilo que somos. Nem devemos interrogar por um telos anterior a nós mesmos, e que nos atrai em sua direção. Não interrogamos pelo que nos revelamos ser. Perguntamos, ao invés, como viemos a ser quem somos, como as tramas de nossa história nos levaram a ser este e não outro ser qualquer, neste momento particular. Para os filósofos dentre nós, é difícil abordar a nós mesmos dessa maneira. Nos foi ensinado que a questão de quem somos nós não é uma questão histórica, mas uma questão transcendental. O apelo aos fatos empíricos, à compreensão das práticas (por vezes mesquinhas) que nos fizeram ser quem somos, viola nosso instinto filosófico. Se Foucault é filósofo, é porque é historiador.
Mas não só os filósofos é que consideram esta abordagem difícil. Muitos historiadores também hesitam diante do projeto de Foucault. É filosófico demais para o seu gosto. Foucault não nos dá apenas os fatos. Não escreve como se a história fosse simplesmente uma contabilidade do passado, a recitação de pergaminhos pertencentes a outro tempo. Se Foucault é historiador, é porque é filósofo. Seus estudos são reflexões sobre a questão de quem somos nós, mesmos que eles não concordem em interrogar desde o reino do eterno e do imutável em direção ao do contingente e mutável.
É então Foucault, Foucault ele mesmo que nos leva a questão de Foucault Agora. Acima de tudo, são seus próprios escritos que exigem o questionamento de se as histórias que ele nos ofereceu do presente são ainda histórias do nosso próprio presente, ou se o presente em que agora habitamos exige outras histórias, outras estórias. Se levarmos Foucault a sério, e não convertermos sua obra simplesmente num exercício de interpretação acadêmica, mas enxergarmos neles a raíz de nosso próprio caráter, a estrutura do nosso presente, então devemos encarar a questão que sua própria obra levanta: o que nos resta de Foucault Agora?
Seguramente, se responderá que Foucault é tão relevante agora como sempre foi. Afinal, fazem só vinte anos da sua morte. Certas modas acadêmicas podem ter ido e vindo nesse meio tempo, mas o caráter do nosso presente mudou realmente tanto assim? Não somos ainda aqueles seres sexuais que éramos em 1976; não somos ainda os seres disciplinares que Foucault descreve em seu livro sobre as prisões? Resposta a estas questões não são óbvias. Foucault ele mesmo, delineia rupturas na história, pontos onde quem somos nós começa a desviar-se de um caminho rumo a outro. Há períodos de não mais de vinte ou trinta anos, em que a transição de um conjunto de práticas, que constituem quem somos nós, se ainda não puderam completamente, pelo menos começam a se integrar. Por exemplo, em O Nascimento da Clínica ele traça a mudança na visão médica sobre a doença e, portanto da relação entre a vida e a morte, desde um modelo essencialista a um modelo de lesões. Esta mudança toma lugar, no final do século dezoito e início do dezenove, um período pouco maior que duas dúzias de anos.
E quanto à questão de se, de fato, ocupamos um outro espaço histórico, de se, de fato, estamos nos tornando algo diferente daquilo que temos nos habituado, muitos responderiam afirmativamente. Adentramos, de fato, num novo período histórico, um período que já alterou a textura de nosso próprio ser e que continuará alterando. Este novo período histórico, apesar de nascente durante o período dos escritos de Foucault, emergiu para desafiar o retrato do presente tal como ele nos oferece. Considere por um momento, três abordagens de compreensão do nosso mundo que dizem já estarmos além de Foucault, que, em essência, já não podemos mais nos voltar para Foucault por uma compreensão do nosso presente, de quem somos nós agora.
A primeira vem de seu colega Gilles Deleuze. Deleuze diz que, em contraste com a sociedade disciplinar delineada por Foucault, adentramos agora numa sociedade que ele chama de sociedade de “controle”.
Estamos nos mudando para sociedades de controle que não operam mais por confinar pessoas, mas através de um controle contínuo e de comunicação instantânea… Novos tipos de punição, educação, cuidados de saúde estão sendo introduzidos disfarçadamente. Hospitais abertos e equipes fornecendo cuidados de saúde no lar estão rolando há algum tempo. Pode-se imaginar a educação se tornando menos e menos um lugar fechado diferenciado do espaço de trabalho, como outro lugar fechado, mas ambos desaparecendo e dando lugar ao terrível treino contínuo, ao monitoramento contínuo de trabalhadores-escolares [worker-schoolkids] ou burocratas-alunos [bureacrat-students]“. 6
Deleuze argumenta que não estamos mais sujeitos ao modelo disciplinar que Foucault retrata em seu livro sobre as prisões, um modelo que vê as pessoas confinadas em espaços específicos onde são monitoradas, intercedidas, e normalizadas. Estamos, ao invés, inseridos numa rede aberta* [open network] de comunicação e relay*, redes que nos determinam, não mais por discretos períodos de treinamento em lugares específicos – o escolar, depois o militar, depois o de trabalho – mas por uma teia digital* [digitalweb] que está tecida ao nosso redor, bem como nós estamos tecidos dentro dela.
Uma visão diferente do nosso presente, mas não inteiramente sem-relação às outras, é oferecida por Jean Baudrillard. Ele desafia a visão de Foucault de que quem somos nós seja produto de práticas intersectantes, cada qual com seu próprio poder de criar aspectos diferentes de nós. Em particular, a idéia de que o poder nos produz é, a seu ver, anacrônica. “Quando se fala tanto no poder, é porque ele não pode ser mais encontrado em nenhum lugar. O mesmo vale para Deus: a fase em que ele estava em toda a parte precedeu a que ele estava morto”7.
Para Baudrillard, o modelo de poder e produção é um modelo industrial, inadequado à sociedade pós-industrial em que habitamos. Se quisermos compreender nosso presente, devemos olhar, ao invés, para as realidades virtuais que se erguem a nossa volta, mundos imateriais, que vieram repor o mundo material como nossa realidade vivida. As imagens da televisão, antes mesmo do que esta ou aquela imagem pode ou não representar, são o tecido de nosso mundo. A história ela mesma está perdida para um presente que não precisa mais dela, mas que precisa sim da realidade que ela pretende retratar. Vivemos numa era que Baudrillard chama de “hiper-realidade”, onde a única função de um lugar como a Disneyland é dar-nos a ilusão de que fora de seus portões o mundo é efetivamente real.
Finalmente, muitos argumentariam que a nova era na qual adentramos é a era da globalização. Uma era em que a comunicação instantânea mudou a estrutura econômica das sociedades e a relação dos indivíduos com estas estruturas. Nossa identidade não é mais determinada pelo fato de sermos produtores de bens; é determinada pelo fato de sermos consumidores. Não estamos mais sujeitos a companhias que, em troco do nosso trabalho, prometem uma carreira estável e monótona, mas estamos sujeitos agora a movimentos alternantes de capital e trabalho que podem num dia nos beneficiar e no outro nos deixar na mão. Não somos mais cidadãos de um estado-nação, no qual dentre os recursos da nação, figuram as companhias; o estado-nação finda seu curto reinado para agora sujeitarmo-nos diretamente ao capital ele mesmo.
Estas três explicações do nosso presente têm muito em comum. Estão arraigadas nos avanços tecnológicos dos trinta ou quarenta anos passados. Elas vêem em nossa história recente uma ruptura com um passado ligeiramente menos recente. Elas atribuem um poder determinante ao entrelaçamento do capitalismo transnacional com a ascensão de uma cultura digital. Para eles, 1976 é um tempo muito longínquo. Como resultado, explicam as histórias de Foucault da sexualidade, das prisões, e da loucura como pertencentes à outra era, uma época que, antes de coincidir com a nossa, a teria precedido.
Estas explicações têm algo mais em comum, algo que as torna tanto pré – como pós-foucaultianas. São explicações que abordam nosso presente desde muito acima do solo. Elas observam nosso presente de uma altura muito grande, e como resultado, cada abordagem o enxerga num só matiz. Se somos descritos comorelays numa digital network, consumidores de hiper-realidade, ou sujeitos do capital global, estamos sendo explicados como uma só coisa, como uma coisa única quê se presta exaustivamente à uma perspectiva particular. Às vezes, certamente, Foucault é lido como se estivesse reduzindo tudo: à sexualidade, às sociedades de cárcere, à Razão. Entretanto, ele é mau-lido dessa maneira. Abordar o nosso presente como se ele fosse redutível a uma explicação unitária é abordá-lo fracamente, sem preocupar-se com os detalhes, sem responsividade às práticas e arquivos dentre os quais vivemos. Nunca mais uma só estória nos será contada como se fosse a única. Aqueles que se detém em apenas uma destas estórias esquecem a lição de Berger. Eles ainda nem alcançaram Foucault, e muito menos foram além dele.
Como Foucault nos lembra, em seu famoso ensaio sobre Nietzsche, “A genealogia é cinza; ela é meticulosa e pacientemente documentária…. um indispensável demorar−se: marcar a singularidade dos acontecimentos, longe de toda finalidade monótona; espreitá−los lá onde menos se os esperava e naquilo que é tido como não possuindo história… A genealogia exige, portanto, a minúcia do saber, um grande número de materiais acumulados, exige paciência..”8
Do que as três objeções a Foucault carecem é paciência e um reconhecimento da singularidade dos eventos. Elas sobrevoam o mundo antes de vasculhá-lo. Antes de tons de cinza, enxergam preto e branco. Antes de oferecer uma história, oferecem um snapshot – e ainda por cima, um snapshot aéreo.
Nisso, tais abordagens ao nosso presente, à quem somos nós agora, não diferem do modo pelo qual muitos entre nós pensa a situação vigente. Tratamos nosso mundo como se ele não tivesse um passado, um mundo plenamente desabrochado há apenas um momento antes de começarmos a refletir sobre ele, e conseqüentemente um mundo que não cessa de nos chocar em seu caráter arbitrário e idiótico. E seria ingênuo, de fato, negar que as tecnologias mais recentes reforçaram esta tendência. Aqui, as análises de Baudrillard e de outros como ele, estão com o anel da verdade. A televisão, a internet, o cinema, parecem por vezes comprimir nosso mundo à um único momento, um momento que espreme o legado que o determinou ao futuro com o qual contribui.
É precisamente esta tendência, entretanto, que faz das abordagens de Foucault mais e não menos urgentes. Se nos é dito que não há outros momentos que não este, se somos pegos pela urgência do presente em detrimento da compreensão de como chegamos até aqui, talvez então não seja porque as contingências de nossa história se tornaram irrelevantes para nós, mas porque estas mesmas contingências nos conduziram até aqui. E, justamente porque são contingências, é que podemos compreender o caminho que nos trouxe até aqui e no seu rastro construir outros caminhos que possam nos levar para fora deste. Re-convocando e expandindo o comentário anteriormente citado, Foucault ele mesmo nos diz,
Tantas coisas podem ser mudadas, frágeis como são, sujeitas mais à circunstâncias do que à necessidades, mais arbitrárias do que auto-evidentes, mais uma questão de complexas, mas temporárias, circunstâncias históricas do que com constrangimentos antropológicos inevitáveis… dizer que, somos mais recentes do que pensamos não é uma maneira de tomar todo o peso da história sob os ombros. Mas antes colocar à disposição do trabalho que podemos fazer sobre nós mesmos a maior parte possível do que é apresentado como inacessível para nós.9
E finalmente, talvez seja este o problema com as três análises que buscam relegar ao passado os estudos de Foucault. Cada uma delas, à sua maneira, olhando do alto, fracassou em enxergar as contingências específicas de nossa história, apresentando-nos a mudança como inacessível, a deixando longe demais do nosso alcance. Não são fatalistas: diz Deleuze: “Não é questão de se alarmar ou esperar pelo melhor, mas de encontrar novas armas”10. De sua parte, Baudrillard delineia uma estratégia elusiva de sedução e silêncio. Entretanto, suas recomendações são tão gerais quanto suas análises; não oferecendo oframework para a resistência tal como poderia oferecer uma abordagem mais nuançada ao nosso presente.
O problema destas abordagens ao nosso presente, não é a falta de formas específicas de guia. Foucault é notoriamente relutante em prescrever. No primeiro volume de sua história da sexualidade o único conselho que oferece é a sugestão de que a resistência ao regime corrente de sexualidade não deveria ser concebida em termos de sexo e desejo, mas em termos de corpos e prazeres. Dificilmente isso se constitui num programa esmiuçado para a ação. Não é uma questão de guias, mas de um nível apropriado de análise. Abordam a questão quem somos nós agora de tão alto, que assim já nem podemos enxergar bem o suficiente para pensar em resistência e mudança. Não precisamos destes pensadores para nos dizer o que fazer, como Foucault sempre soube, podemos descobrir isto por nós mesmos. O que precisamos é de certa assistência para a compreensão de onde estamos e de como aqui chegamos. Nisto, Deleuze e Baudrillard e aqueles que moldam o mundo em termos de globalização nos dizem algo, mas não dizem o suficiente. E com a finalidade de acessar a relevância dos trabalhos de Foucault para quem somos nós agora, eles dizem muito pouco.
Nada disso significa insistir que os trabalhos de Foucault sobre a sexualidade, sobre as prisões e sobre a loucura são, de fato, tão relevantes agora como sempre foram. Seria surpreendente se todas estas áreas constitutivas de quem somos nós retivesse seu caráter intacto dado as mudanças pelas quais nosso mundo passou. Ao invés disso, estou alegando que, se é para questionar Foucault Agora, se é para ponderar a relevância de sua obra para nossas vidas, devemos abordar os suas obras com uma metodologia ainda mais foucaultiana. Devemos olhar ao redor, e não para baixo.
Como funcionaria? Como, por exemplo, questionaríamos o papel da sexualidade na constituição de nossas vidas, nos trinta anos passados? Engajando-se num trabalho que, como ele descreve, é “cinza, meticuloso e pacientemente documentário”. Vejamos os manuais de saúde das últimas décadas e interroguemos como neles figuram o sexo e a sexualidade. Pesquisemos o lugar do sexo no cinema, na televisão e na Internet. Folheemos os manuais de auto-ajuda para descobrir como devemos nos portar em relação ao outro, o que temos que falar e o que temos de confessar. É verdade que, em contraste ao tempo de Foucault, quando a revolução sexual e a centralidade do pensamento lacaniano fizeram, amplamente, com que as pessoas pensassem si mesmas em termos de sexualidade, o foco no sexo diminuiu um pouco no discurso público, pelo menos no discurso público da esquerda. Mas significa que perdeu seu poder em formar quem somos? Foi Foucault ele mesmo, que apontou para o fato da sexualidade ter sido um permeante fator determinante do que éramos, até mesmo quando ainda não falávamos dela. A diminuição das falas sobre a liberação sexual é um signo do declínio do papel que a sexualidade desempenha em fazer de nós quem somos, ou simplesmente uma alternância em como esse fazer ocorre?
No mínimo, deveríamos nos deter ao vermos tantas falas sobre “valores morais” em nossos dias recaírem em referências explícitas à sexualidade: casamento gay, aborto, pornografia, sexo na televisão. Como vim de South Carolina, posso dizer a você que, pelo menos naquele lugar do país, estamos imersos em sexualidade. Muitos dos pastores e outros iluminados locais não conseguem parar de falar sobre ela. Que significa isso para quem somos nós agora? Embora eu não tenha uma resposta, suspeito que, globalização à parte, isto não é inteiramente irrelevante.
E o que dizer da sociedade carceral que, segundo argumenta Deleuze, já teríamos ultrapassado? Ele está certo em dizer que alguma coisa importante mudou aí. Estamos entregues menos ao confinamento, e cada vez mais a uma rede de comunicação descentralizada. Mas, isso teria rompido com a vigilância e o projeto de normalização que surge a partir daí? O que estamos vendo é uma alternância de uma época à outra, em quem somos nós agora, ou simplesmente uma alternância das operações de vigilância e o advento de locais abertos ao invés de fechados? E se a psicologia já não é mais central para nos julgar em termos de normal e anormal, seria porque a normalização já não é mais um traço constitutivo de quem somos nós ou porque o mercado sobrepôs-se ao papel uma vez destinado aos terapeutas; porque o normal não reside mais em nossas ações enquanto produtores, mas enquanto consumidores; porque a normalidade não é mais uma questão de trabalho, mas uma questão de compras?
Novamente, as resposta a estas questões não são óbvias. E este é o ponto. Não podemos dizer quem somos simplesmente notando grandes, e importantes, mudanças pelas quais nossa sociedade passou. Devemos investigar o desdobrar da história do mundo que recebemos através da escavação. Devemos procurar aonde os historiadores às vezes se esquecem e aonde os filósofos temem caminhar; no solo, nos espaços em que as pessoas vivem suas vidas. Dito de outra maneira, se é para questionarmos a relevância dos escritos de Foucault Agora, devemos nos tornar mais e não menos foucaultianos.
Nisso, assim como em tantas outras coisas, Foucault nos antecipa. Defendendo a sua maneira de delinear nossas vidas não tanto pelas grandes instituições, mas pelas práticas cotidianas, ele diz,
Eu não quero, de modo algum, minimizar a importância e a efetividade do poder do Estado. Simplesmente sinto que, a insistência excessiva em que ele desempenha um papel exclusivo leva ao risco de negligenciar todos os mecanismos e efeitos do poder que não passam diretamente pela via do aparato do Estado… Na sociedade Soviética se tem um exemplo de um aparato de Estado, que trocou de mãos, mas conservou as hierarquias sociais, a vida da família, sexualidade e o corpo mais ou menos como eram na sociedade capitalista. 11
Devemos abordar as obras de Foucault tanto como se estivéssemos lendo-as, como buscando expandi-las, de modo a compreender quem somos nós agora, e não simplesmente como se fossem um conjunto de textos para serem decifrados, comentados, pesquisados, psicanalisados, anotados, citados, e, para aqueles entre nós que lecionam, entregues aos graduandos como parte de um novo e melhorado cânon. Nada mais atraiçoado que tratar Foucault como um recém-admitido membro da Academia dos Machos Brancos Mortos. Devemos, ao invés, lidar com seus trabalhos como os antigos lidavam com sua filosofia; devemos tê-los como exercícios espirituais. Para os gregos, especialmente para a filosofia helenista, o ponto de um texto ou ensinamento filosófico não era oferecer mais erudição, mas orientação para um modo de vida. E enquanto tais, nós retornamos àqueles textos ou ensinamentos não porque uma nuance do pensamento foi omitida ou porque uma inferência não foi muito bem compreendida, mas porque é preciso recordar quem éramos e quem poderemos vir a ser.
O mesmo se passa, eu sugiro, com os escritos de Foucault. Retornamos a eles não para descobrir se, por exemplo, os regimes penais de tortura sempre se sobrepuseram aos de reabilitação, mas para re-convocar as contingências de nossa própria história, e nos lembrar que – pois às vezes nos esquecemos – nossa história é de fato contingente. Retornamos a seus escritos, pois eles falam conosco desde fora do passado – e, talvez ainda, desde fora de nosso presente – de quem já fomos e de quem somos, e o fazem de tal maneira que nos permite imaginar quem poderemos vir a ser. Retornamos a Foucault Agora, e retornaremos ainda no futuro, pois a liberdade que ele buscou para sua vida e também a que entreviu para a nossa é, ao contrário a todos no poder, que preferem que não as conheçamos, um conjunto de possibilidades que até nós permaneceram intactas. Nossa tarefa, a tarefa que nos resta, é viver essas possibilidades.
Por Todd May
Notas do Autor:
1. Este artigo foi primeiro dado como endereçado à conferência inaugural da Foucault Society na New York School, em New York a 13 de maio, 2005. Meus agradecimentos aos organizadores da conferência pela oportunidade, e especialmente à Yunus Tuncel, David Carlson, e Martin Parkins, por apresentar o artigo..
2. Michel Foucault, “Practicing Criticism,” an interview with Didier Eribon, trans. Alan Sheridan, in Michel Foucault: Politics, Philosophy, Culture, ed. Lawrence Kritzman. (New York: Routledge, 1988), 156.
3. Michel Foucault, The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction, tr. Robert Hurley. (New York: Random House, 1978), 19.
4. Michel Foucault, Abnormal: Lectures at the Collége de France 1974-1975, tr. Graham Burchell. (New York: Picador, 2003), 224. 5. John Berger, G. (New York: Pantheon, 1980; orig. pub. 1972), 133.
6. Gilles Deleuze, “Control and Becoming,” in Negotiations 1972-1990, tr. Martin Joughin. (New York: Columbia University Press, 1995), 174-5.
7. Jean Baudrillard, Forget Foucault, tr. Nicole Dufresne. (New York: Semiotext(e), 1987), 60.
8. “Nietzsche, Genealogy, History,” in Language, Counter-Memory, Practice, ed. Donald F. Bouchard, tr. Donald F. Bouchard and Sherry Simon. (Ithaca: Cornell University Press, 1977), 139-140.
9. Michel Foucault, “Practicing Criticism,”, 156.
10. Gilles Deleuze, “Postscript on Control Societies,” in Negotiations, 178.
11. Michel Foucault, “Questions on Geography,” in Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, ed. Colin Gordon. (New York: Pantheon, 1980), 72-73.
12. Michel Foucault, The Use of Pleasure, tr. Robert Hurley. (New York: Pantheon, 1985), 8.
Todd May, Clemson University 2005
Foucault Studies, No 3, pp. 65-76, Nov 2005 ISSN: 1832-5203
Tradução: José Paulo M Souza